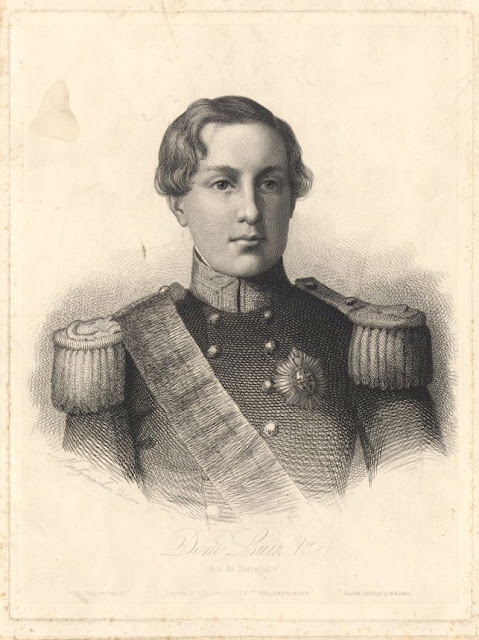A TEIMOSIA
Desta vez, para
realizarmos convenientemente a nossa viagem na História, seria preciso seguir o
exemplo de Santo António ao produzir o milagre da ubiquidade — difícil, porque
nenhum de nós é santo. Ou seja, teríamos de fazer várias viagens ao mesmo
tempo. Para simplificar, proponho somente três incursões no passado, a primeira
das quais a Massangano, no século XVII.
Massangano fica
na margem direita do rio Cuanza, em Angola. Tem uma inegável importância na
história colonial, porque foi palco de vários combates. Mas o que interessa,
aqui, é o período que vai de 1641 a 1648. Durante esses sete anos, Luanda
esteve em poder dos holandeses, que passaram, na prática, a dominar Angola —
mas não a totalidade do território: as autoridades portuguesas foram
entrincheirar-se em Massangano, que se tornou a capital portuguesa de Angola.
Em 1648, Salvador Correia de Sá expulsou os holandeses de Luanda e os
portugueses de Massangano foram finalmente socorridos.
Esta crónica
não é um hino de louvor ao colonialismo (português ou holandês); mas a História
não é alterável. O que quero salientar, aqui, é a furiosa persistência (a
teimosia!) com que os portugueses se agarraram àquela praça empoleirada sobre o
Cuanza. No princípio dos anos 70 (século XX, claro), visitei Massangano; e,
mesmo então, a vista das ruínas — igreja, fortaleza, tribunal, enfim, os
edifícios de uma administração reduzida mas decida a funcionar — era
impressionante. Como puderam resistir naquela solidão, militarmente acossados
de todas as partes e sujeitos às febres que levaram muitos deles? Que teimosia
foi aquela?
Segunda viagem:
será breve, porque já me referi ao assunto em crónica anterior: o segundo cerco
de Diu, em 1546. Durou seis meses e quando D. João de Castro pôde finalmente
intervir e libertar a praça, já esta não era muito mais que uma grande ruína,
mas onde ainda se combatia. De fins de Abril a Novembro de 1546, os sitiados,
homens e mulheres, combateram com raiva. Recusaram as propostas de rendição com
honra, que lhes permitiriam partir levando os seus haveres. Não podemos, hoje,
imaginar o que terão sido aqueles seis meses na fortaleza de Diu. Uma vez mais:
teimosia!
E a terceira
viagem vai mais longe no tempo e é mais vasta no espaço: refiro-me a toda a
história da implantação portuguesa no Oriente. Um historiador inglês bem
conhecido, o Prof. Charles Boxer, dá-nos uma perspectiva de estrangeiro, que é
sempre bom ter em conta quando é honesta (como é o caso), mesmo se por vezes
algo incorrecta ou injusta. No seu livro «O Império Marítimo Português», Boxer
faz notar, com justeza, que se fala muito das conquistas portuguesas no Oriente, mas que se fala pouco das
várias tentativas falhadas que antecederam essas conquistas. E comenta, em substância,
que os portugueses mostraram uma enorme tenacidade, uma enorme determinação
(uma enorme teimosia!) na construção do seu império marítimo.
Como o leitor
compreendeu, era à teimosia que eu queria chegar com estas viagens. Ponhamos de
lado as possíveis motivações e as explicações — bravura, força espiritual, sede
de riquezas e de poder, ardor religioso, ganância, tudo isso esteve presente em
proporções diversas, mas não é, aqui, o meu tema. O meu tema é a persistência,
a coragem da teimosia que os portugueses mostraram em vários momentos da sua história,
e não só nestes que acabo de referir. Como país e como povo, somos um caso de teimosia.
E que falta ela
nos faz, hoje…!
João
Aguiar
 |
| TORRE DE BELÉM - Lisboa |